Nicholas Winton protagoniza uma dessas histórias que atravessam o tempo não apenas pela grandiosidade de seus feitos, mas também pela simplicidade com que foram conduzidas. São relatos que não explodem em manchetes, que não chegam ao grande público de imediato, mas ganham terreno na memória coletiva, como uma forma de lembrar os grandes exemplos que a humanidade produz.
Com todos os grandes personagens da história foi assim. Os feitos de Jesus, por exemplo, só passaram a ganhar notoriedade dois séculos após sua morte; Joana D’arc, queimada na inquisição da própria França, se tornou símbolo nacional apenas séculos depois. Poderíamos citar outros tantos que viram suas vidas se esvaírem sem receber os devidos méritos. Entretanto, estes não precisavam do reconhecimento, visto que suas ações mudaram o mundo sem precisar de aplausos.
Hoje queremos contar uma destas histórias, que passa uma vida inteira quase de maneira anônima, mas que mudou a vida de centenas de pessoas. Estamos falando do filme “Uma Vida – A História de Nicholas Winton”.
Antes de mergulharmos na narrativa e trajetória de Nicholas Winton, falemos um pouco do filme. O longa, dirigido por James Hawes, não se rende a exageros sentimentais, nem tenta transformar seu protagonista em um super-herói. Pelo contrário: é justamente na discrição da narrativa que reside sua força. O filme começa nos anos 1980, com um Nicholas Winton já idoso (interpretado com sensibilidade por Anthony Hopkins) organizando papéis antigos em sua casa. Entre esses papéis, encontramos listas, fotografias, bilhetes, registros de algo que ele, por décadas, manteve em silêncio: o resgate de 669 crianças judias da Tchecoslováquia em 1939.
A narrativa então alterna entre esse presente íntimo e os acontecimentos de 1938, quando um jovem Nicholas (vivido por Johnny Flynn) visita Praga e se depara com o desespero de famílias que, fugindo da ameaça nazista, procuravam salvar pelo menos seus filhos. O filme mostra, com delicadeza, a criação de uma rede de ajuda que prezava, antes de mais nada, salvar vidas. Sem apoio governamental, sem dinheiro, e muitas vezes sem esperança, Winton e um pequeno grupo de voluntários enfrentaram o tempo, a burocracia e a indiferença para tentar salvar o máximo possível de vidas.
Essa corrida contra o tempo fez com que Nicholas colocasse sua vida em risco em prol de crianças que, em sua grande maioria, ele nem conhecia. Assim, rompe-se a barreira familiar, de cuidar apenas dos seus, e entra-se na esfera humana, de sentir que todas aquelas crianças eram como seus filhos, que precisavam ser ajudadas e receber toda assistência possível.
A grande “sacada” do filme, porém, está em seu epílogo. Na década de 1980, durante um programa da BBC, Nicholas é surpreendido por várias das crianças que ajudou a salvar, agora adultas, sentadas ao seu lado na plateia. Ao olhar para trás e ver todo auditório em pé, com adultos que se tornaram engenheiros, médicos, professores e outras tantas profissões, com suas próprias famílias, e tudo isso graças ao esforço que esse homem fez para salvá-las, é impossível não se emocionar. Ali, o espectador entende que nenhuma ação generosa desaparece, mesmo aquelas realizadas no mais absoluto silêncio.
Quem foi Nicholas Winton?
O filme é, entretanto, um recorte da vida desse herói quase anônimo. Logo, para além de nos inspirarmos com a película, devemos conhecer um pouco mais sobre quem foi Nicholas Winton. Ele nasceu em Londres, em 1909, filho de pais judeus alemães que haviam se convertido ao cristianismo. Cresceu em uma família de valores firmes, mas sem extravagâncias. Vindo de uma família de boas condições financeiras, acabou estudando economia e trabalhou no mercado financeiro. Como tantos outros de sua geração, poderia ter seguido uma vida tranquila e comum, se não fosse os horrores da guerra que batiam na porta do seu país, em 1938.

Neste ano a Europa estava à beira de uma nova guerra. A Alemanha de Hitler já havia anexado a Áustria e agora mirava a Tchecoslováquia. Quando um amigo o chamou para visitar Praga, Winton viu o que muitos preferiam ignorar: milhares de famílias vivendo em condições miseráveis, fugindo do antissemitismo e da violência nas ruas e bairros feitos para judeus. Ele entendeu, naquele momento, que não bastava sentir pena. Era preciso agir.
Com recursos próprios, alugou um quarto de hotel e o transformou em um escritório improvisado. Começou a registrar nomes de crianças, a buscar lares adotivos na Inglaterra, a negociar permissões de entrada com o governo britânico. Sozinho, escreveu cartas, organizou trens, pressionou embaixadas para que fosse tirado o máximo possível de crianças daquela situação. Winton percebeu, talvez antes mesmo das autoridades do seu país, que a ideologia nazista iria causar grande destruição não somente nos fronts de batlha, mas também em toda a sociedade europeia ao perseguir milhões de judeus.

Desse modo, cada autorização conseguida era uma vida salva; cada carimbo, uma chance. No fim, foram 669 crianças. O mais curioso é que, ao terminar sua missão, Winton voltou para sua vida normal. Nunca contou a ninguém o que havia feito, guardou os documentos em uma pasta, e sua vida seguiu normalmente, sem buscar aplausos ou recompensas. Nem mesmo sua esposa sabia desse feito tão importante, uma vez que esta só descobriu tudo quarenta anos depois. Perguntado sobre o motivo do silêncio, respondeu com simplicidade: “Não era algo sobre o qual se devesse fazer alarde. Era apenas a coisa certa a se fazer.”
Como mudar o mundo através de pequenas ações
Na filosofia indiana, pode-se resumir a ação de Nicholas Winton em uma expressão: reta-ação. Agir sem desejo, sem necessitar de reconhecimento, apenas porque é o correto a se fazer. O mundo necessita urgentemente de mais exemplos assim, por isso é fundamental entendermos que podemos mudar nossa realidade a partir de nossas próprias ações, sem esperar os frutos de nossas atitudes.
Para além da forma objetiva da qual atuou, o exemplo de Nicholas Winton nos obriga a repensar a ideia de heroísmo. O herói, aqui, não é o que vence batalhas com espadas, mas o que se coloca na vida para ajudar os demais com as armas que possui, o que decide agir mesmo quando todos parecem derrotados.

Nesse sentido, a história de Winton é uma aula sobre ética. Para a filosofia, a ética nada mais é do que os valores que cultivamos internamente e que estão ligados ao bem. Esses valores devem ser transformados em ações, ou seja, se tornar nossa prática no mundo. Assim, se cultivo como valor a generosidade, minha prática cotidiana será, consequentemente, ser generoso com as pessoas, o meio ambiente e todas as formas de vida.
Desse modo, nossas pequenas ações cotidianas, quando canalizadas a partir de valores éticos, podem transformar o mundo à nossa volta. Não caiamos em ilusões: o mundo não pode ser transformado a partir de leis rígidas ou novas formas de governo, pois mesmo que tudo mude externamente, é a nossa forma de vida diária, nossa cultura e nossos valores que poderão realmente moldar a mentalidade de uma sociedade melhor. Essa é a prova de que cada um de nós, com os meios que possui, pode ser a diferença para construir ou não um mundo melhor.
Por fim, devemos compreender que “Uma Vida – A História de Nicholas Winton” não é apenas um filme bonito e que nos faz chorar. É uma lembrança necessária. Em tempos em que somos bombardeados por narrativas de ódio, polarização e individualismo, a figura de Winton aparece como um farol que indica um caminho mais humano, com atitudes mais belas, simplesmente por ser o correto a se fazer. Winton nos mostrou que é possível ser gentil, mesmo em meio à barbárie; que é possível ajudar o próximo, mesmo colocando sua vida em risco. É possível, enfim, ser realmente um ser humano quando o mundo parece estar de cabeça para baixo.
Mais do que homenagear um homem, o filme nos convoca a sermos melhores, a não nos conformarmos, a entender que, sim, somos pequenos, mas não insignificantes. E que, como ensinou Winton, às vezes basta uma única vida para salvar centenas de outras.





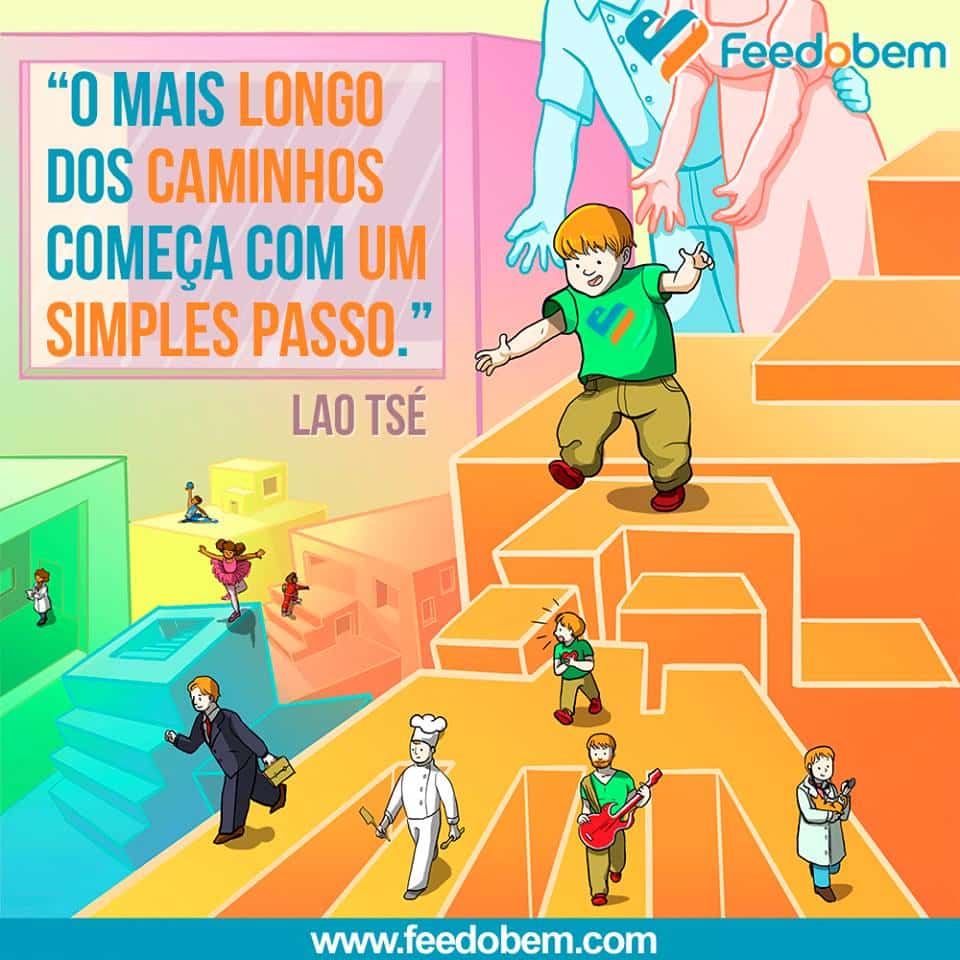
Comentários